Ver também:
Capítulo I, parte 1 (Tales de Mileto)
Capítulo I, parte 2 (Anaximandro de Mileto)
Capítulo I, parte 3 (Anaxímenes de Mileto)
Capítulo I, parte 4 (apreciação geral do materialismo jônio)
Capítulo II, partes 2 e 3 (Xenófanes e Heráclito)
Capítulo II, parte 4 (Parmênides e os eleatas)
Capítulo II, parte 5 (Empédocles de Agrigento)
Capítulo II, parte 6 (Anaxágoras de Clazômenas)
Descartes e a teleologia
Como outros pré-socráticos, os pitagóricos consideravam tudo o que existe como material, ou seja, perceptível pelos sentidos. Eles simplesmente substituem a água, o “ilimitado” (concebido como matéria), o ar, a terra e o fogo pelo número.
Christoph Riedweg
1. Pitágoras e os pitagóricos
 Político, fundador de uma seita religiosa e figura mítica relacionada a pretensos feitos taumatúrgicos, Pitágoras (c. 570 a.C. – c. 490 a.C.) nada deixou escrito. Os dados biográficos e os testemunhos doxográficos concernentes a Pitágoras estão severamente contaminados por relatos lendários. Atualmente, os estudiosos tendem a considerar que diversas descobertas matemáticas e doutrinas metafísicas e cosmológicas foram-lhe indevidamente atribuídas. (1) No entanto, tem-se por certo que Pitágoras, natural da ilha de Samos (situada próxima a Mileto), migrou para a cidade grega de Crotona, no sul da Itália, onde fez sua carreira como chefe de uma sociedade secreta de cunho político e religioso. Acredita-se que, em decorrência de perseguições políticas movidas por certos crotonienses, essa sociedade veio a dissolver-se e que Pitágoras foi obrigado a refugiar-se na vizinha Metaponto, onde morreu. Tornou-se ilustre o chamado modo de vida pitagórico, baseado na autodisciplina, no cumprimento de rituais religiosos e na observância de tabus dietéticos cujo verdadeiro caráter nos é desconhecido. Com toda probabilidade, tais práticas tinham a finalidade de proporcionar um bom destino para a alma no além.
Político, fundador de uma seita religiosa e figura mítica relacionada a pretensos feitos taumatúrgicos, Pitágoras (c. 570 a.C. – c. 490 a.C.) nada deixou escrito. Os dados biográficos e os testemunhos doxográficos concernentes a Pitágoras estão severamente contaminados por relatos lendários. Atualmente, os estudiosos tendem a considerar que diversas descobertas matemáticas e doutrinas metafísicas e cosmológicas foram-lhe indevidamente atribuídas. (1) No entanto, tem-se por certo que Pitágoras, natural da ilha de Samos (situada próxima a Mileto), migrou para a cidade grega de Crotona, no sul da Itália, onde fez sua carreira como chefe de uma sociedade secreta de cunho político e religioso. Acredita-se que, em decorrência de perseguições políticas movidas por certos crotonienses, essa sociedade veio a dissolver-se e que Pitágoras foi obrigado a refugiar-se na vizinha Metaponto, onde morreu. Tornou-se ilustre o chamado modo de vida pitagórico, baseado na autodisciplina, no cumprimento de rituais religiosos e na observância de tabus dietéticos cujo verdadeiro caráter nos é desconhecido. Com toda probabilidade, tais práticas tinham a finalidade de proporcionar um bom destino para a alma no além.
De fato, entre as pouquíssimas doutrinas atribuídas com segurança a Pitágoras, destaca-se a da metempsicose (reencarnação ou transmigração da alma), de teor grosseiramente materialista. Cumpre aqui distinguir, como no caso dos jônios, o materialismo em sentido lato, segundo o qual o mundo sensível é a única realidade, do materialismo em sentido estrito, oriundo do estado atual das pesquisas científicas. De acordo com o conhecimento científico prevalente, a mente e a personalidade são dependentes de um cérebro funcional, de modo que a crença na sobrevivência da personalidade e na reencarnação seria infundada. Com efeito, a hipótese da existência de uma alma material e distinta do cérebro está sujeita, em princípio, à verificação empírica. Em anos recentes, por exemplo, Ian Stevenson, professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia, granjeou notoriedade por sua tentativa de coligir evidências empíricas do fenômeno da reencarnação. (2)
Essas supostas evidências são essencialmente idênticas àquelas que teriam sido aduzidas pelo próprio Pitágoras. Diógenes Laércio relata que, conforme Heracleides do Pontos, Pitágoras era capaz de rememorar suas vidas pretéritas, (3) e Diodoro menciona um episódio bastante curioso no qual Pitágoras convence os céticos da realidade da reencarnação:
Dizem que certa ocasião em que [Pitágoras] se encontrava em Argos avistou um escudo dos espólios de Troia preso à parede e se desfez em lágrimas. Quando os argivos indagaram-lhe o motivo de tal emoção, respondeu que aquele escudo fora utilizado por ele próprio em Troia quando era Euforbo. Os argivos não lhe deram crédito, julgando que tivesse perdido a razão, mas Pitágoras afirmou que providenciaria um autêntico sinal que comprovasse suas palavras: na parte interior do escudo estava inscrito, em letras arcaicas, o nome Euforbo. Dada a natureza extraordinária de sua afirmação, insistiram eles em que o escudo fosse removido – e resultou que na parte interior de fato encontrava-se a tal inscrição. (4)
Apoiados na justificativa de que os doxógrafos não mencionam nenhum argumento da autoria de Pitágoras, Kirk, Raven e Schofield consideram que o título de filósofo não lhe seria apropriado. (5) Mas nosso julgamento não deveria ser um pouco mais caridoso frente à história do escudo de Euforbo e às alegações de que Pitágoras tinha lembranças de suas outras vidas? Barnes, com efeito, reconhece que Pitágoras se preocupou em fornecer argumentos de índole cientifica para a doutrina da metempsicose, o que faria dele um precursor dos modernos parapsicólogos, e não um religioso dogmático:
Portanto, a despeito do conteúdo religioso de seu pensamento, Pitágoras mereceria seu lugar na história da filosofia. Ainda assim, como outros milhares de narrativas publicadas como evidências da sobrevivência da personalidade após a morte, o relato sobre o escudo de Euforbo é puramente anedótico. A falsificação do materialismo científico requer algo mais vultoso do que meras histórias.
No que tange à natureza da alma, Aristóteles estabelece uma aproximação entre a concepção de alguns pitagóricos e a de Demócrito, filósofo que jamais ensinou a imortalidade da alma e a metempsicose, o que mostra que a ontologia materialista é compatível com a modalidade de dualismo que concebe a alma como um corpo caracterizado pela sutileza. (7) Para os antigos atomistas, a alma era composta de partículas ígneas e esféricas;
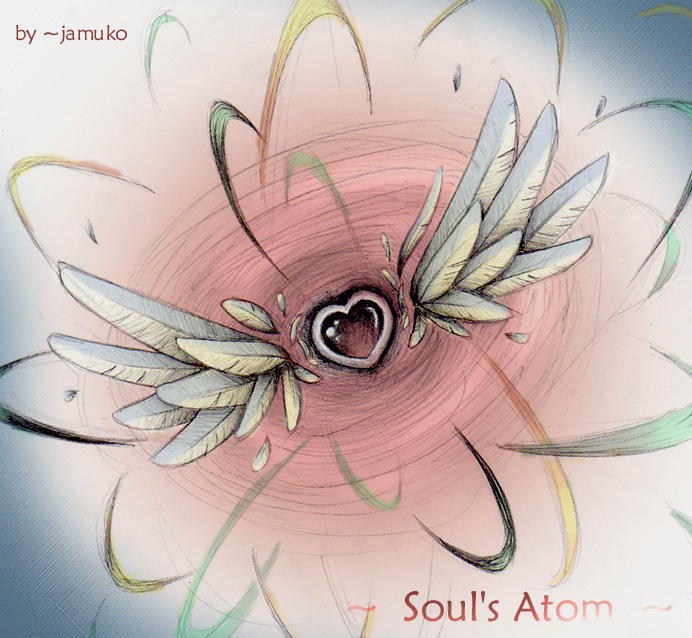 Aristóteles tem em mente as partículas em suspensão no ar, que podem ser vistas quando um raio de sol penetra por uma fresta, e declara expressamente que, para certos pitagóricos, o ar está apinhado de almas, identificadas com os grãos de poeira dançantes. (9) Notemos que a concepção de Demócrito não é assim tão grosseira: para os antigos atomistas, a poeira era tomada apenas em analogia com as partículas extremamente sutis que constituem a alma. Diógenes Laércio substancia o testemunho de Aristóteles por meio da seguinte declaração acerca da crença dos pitagóricos: “Quando a alma é lançada sobre a terra, vaga no ar à semelhança de um corpo. [...] Todo o ar é cheio de almas, chamadas demônios e heróis [...]”. (10)
Aristóteles tem em mente as partículas em suspensão no ar, que podem ser vistas quando um raio de sol penetra por uma fresta, e declara expressamente que, para certos pitagóricos, o ar está apinhado de almas, identificadas com os grãos de poeira dançantes. (9) Notemos que a concepção de Demócrito não é assim tão grosseira: para os antigos atomistas, a poeira era tomada apenas em analogia com as partículas extremamente sutis que constituem a alma. Diógenes Laércio substancia o testemunho de Aristóteles por meio da seguinte declaração acerca da crença dos pitagóricos: “Quando a alma é lançada sobre a terra, vaga no ar à semelhança de um corpo. [...] Todo o ar é cheio de almas, chamadas demônios e heróis [...]”. (10)
Assim, de acordo com essa doutrina pitagórica, a alma era algo material e da finura de uma partícula de pó, ou seja, um corpo que, em razão de seu caráter diminuto, pode ser visto apenas em condições apropriadas. Para sustentarmos essa conclusão, contamos, além do testemunho aristotélico, com o fato de que os outros pré-socráticos concebiam a alma de modo materialista, não havendo evidências de que os pitagóricos pensavam de modo diferente.
Há certamente algo de poético na ideia de que o ar é povoado por uma miríade de almas minúsculas e quase imperceptíveis, ainda que o dualismo materialista seja estigmatizado pelo filósofo metafísico. Propriamente metafísico não é aquilo que difere da matéria “grosseira”, mas aquilo que difere da matéria em geral.
Quanto à opinião dos outros pitagóricos de que fala Aristóteles, é provável que aquilo que move as poeiras seja algo ainda menor do que elas, ou, como observa Guthrie, (11) o pneuma de Anaxímenes e da tradição universal pré-filosófica. Esta segunda alternativa é favorecida pelo relato de Diógenes Laércio acerca da constituição espirituosa ou pneumática do feijão, um alimento que, conforme uma célebre tradição doxográfica, era proscrito pela seita pitagórica: “Pitágoras prescrevia a abstinência de favas porque provocam flatulência e participam no mais alto grau do sopro vital”. (12)
É evidente que, de uma forma ou de outra, estamos a anos-luz de uma psicologia metafísica rigorosamente definida. Holbach observa com muita propriedade que a psicologia dos antigos deve ser contraposta à moderna, cartesiana, em que pesem os arroubos espiritualistas mais delirantes de alguns de seus proponentes:
Não parece, com efeito, que Pitágoras nem Platão, qualquer que tenha sido, aliás, o embrasamento de seus cérebros e o seu gosto pelo maravilhoso, tenham jamais entendido por espírito uma substância imaterial ou privada de extensão, tal qual aquela de que os modernos compuseram a alma humana e o motor oculto do Universo. Os antigos, pela palavra espírito, quiseram designar uma matéria muito sutil e mais pura do que aquela que age grosseiramente sobre nossos sentidos. (13)
 Não obstante seu juízo acurado, Holbach vai longe demais ao incluir Platão entre os materialistas antigos. Na verdade, Platão será o primeiro a conceber a alma como uma entidade estritamente imaterial, ou seja, ontologicamente distinta da matéria. (14) Atualmente, o termo metafísica tem um emprego prejudicado pelo laxismo. Espíritas, parapsicólogos e gurus da new age utilizam-no para designar a suposta ciência de entidades análogas aos espíritos materiais da doutrina pitagórica. Em que pese o quiproquó conceitual, devemos reconhecer a vantagem desse ponto de vista. Ao contrário de uma hipótese metafísica infalsificável e inútil, a hipótese da existência dos espíritos pitagóricos pode ser testada pelas ciências empíricas: sabemos que os grãos de poeira do ar não são almas desencarnadas. Os atuais partidários da doutrina do corpo astral são mais sutis do que os antigos pitagóricos, embora não haja uma diferença ontológica entre uma partícula de pó e qualquer outra matéria existente no Universo. (15) Assim, em mais de 150 anos de pesquisas parapsicológicas, uma evidência substancial e incontroversa da vida após a morte poderia ter sido encontrada. Se atestada, a sobrevivência da personalidade após a dissolução do corpo implicaria na falsificação do paradigma científico materialista (também chamado de materialismo em sentido estrito).
Não obstante seu juízo acurado, Holbach vai longe demais ao incluir Platão entre os materialistas antigos. Na verdade, Platão será o primeiro a conceber a alma como uma entidade estritamente imaterial, ou seja, ontologicamente distinta da matéria. (14) Atualmente, o termo metafísica tem um emprego prejudicado pelo laxismo. Espíritas, parapsicólogos e gurus da new age utilizam-no para designar a suposta ciência de entidades análogas aos espíritos materiais da doutrina pitagórica. Em que pese o quiproquó conceitual, devemos reconhecer a vantagem desse ponto de vista. Ao contrário de uma hipótese metafísica infalsificável e inútil, a hipótese da existência dos espíritos pitagóricos pode ser testada pelas ciências empíricas: sabemos que os grãos de poeira do ar não são almas desencarnadas. Os atuais partidários da doutrina do corpo astral são mais sutis do que os antigos pitagóricos, embora não haja uma diferença ontológica entre uma partícula de pó e qualquer outra matéria existente no Universo. (15) Assim, em mais de 150 anos de pesquisas parapsicológicas, uma evidência substancial e incontroversa da vida após a morte poderia ter sido encontrada. Se atestada, a sobrevivência da personalidade após a dissolução do corpo implicaria na falsificação do paradigma científico materialista (também chamado de materialismo em sentido estrito).
O fato é que a ciência moderna caminha de mãos dadas com o materialismo, sem que haja nisso um parti pris dogmático ou a adesão a um conjunto de crenças a priori, visto que a constatação de determinados dados empíricos poderia motivar uma mudança importante de orientação. Por outro lado, devemos atentar à falsidade da tese pregada pelos acomodacionistas, que fecham os olhos ao profundo antagonismo existente entre a cosmovisão científica aceita atualmente e o espiritualismo. (16) Em A descendência do homem (1871), Darwin reúne uma multidão de evidências – provenientes de áreas como a anatomia comparada, a embriologia e a etologia – que mostram a existência de um contínuo que une as características físicas e mentais do ser humano às dos outros animais. De acordo com o velho argumento dualista, o cérebro humano não é o produtor dos estados mentais, mas uma espécie de instrumento transceptor que serve de ponte entre a alma e o mundo físico. Ora, se levamos em conta o fato de que nenhuma característica biológica surge ex abrupto na filogênese, o argumento dualista acarreta consequências burlescas: as funções mentais de um inseto ou de um peixe (temos a liberdade de eleger um ponto arbitrário do contínuo filogenético) deveriam ser atribuídas a fantasmas que habitam suas máquinas neurais – ou, no caso da digestão, seus aparelhos digestivos. Há tempos o vitalismo, com efeito, deixou de ser uma hipótese científica respeitável. Se o vitalismo, hoje, divide espaço com a hipótese do flogisto no museu das ideias obsoletas, é manifesta a precariedade da opinião dos que defendem a compatibilidade entre as alegações espiritualistas e o ponto de vista científico
Presume-se que a concepção psicológica materialista (em sentido lato) atribuída aos pitagóricos deve ser harmonizada com uma doutrina capital de sua escola, a metempsicose. Assim, as partículas de poeira (ou outras substâncias tão ou mais sutis) transitam pelo ar (os antigos desconheciam a teoria microbiana das doenças) e entram em corpos de seres humanos e de outros animais. Se, como creem os pitagóricos, os animais não humanos são privados de intelecto, somos forçados a reconhecer que o conceito pitagórico de alma (psyché) não compreende a faculdade racional. De fato, Filolau de Crotona (c. 470 a.C. – c. 385 a.C.), sucessor de Pitágoras, entende que a alma, localizada no coração, é a sede dos sentimentos, ou seja, uma entidade que contém a identidade emocional do indivíduo. (17) Isso explica uma anedota relatada por Xenófanes: “Dizem que ele [Pitágoras], passando perto de um cãozinho que estava sendo espancado, apiedou-se dele e falou a quem o maltratava: ‘Para! Não o espanques, pois a alma que reconheci ouvindo-lhe a voz é a de um homem amigo!’”. (18)
 A doutrina pitagórica da metempsicose, de decisiva influência sobre filósofos como Empédocles e Platão, conflita com as crenças gregas tradicionais. Conforme a concepção homérica, as almas que habitam o Hades não passam de sombras destituídas de inteligência e de sentimentos, (19) de modo que, paralelamente às religiões de mistérios (de Elêusis e de Dionísio) e ao movimento religioso conhecido como orfismo, a proclamação pitagórica da imortalidade da alma pode ser considerada uma revolução filosófica.
A doutrina pitagórica da metempsicose, de decisiva influência sobre filósofos como Empédocles e Platão, conflita com as crenças gregas tradicionais. Conforme a concepção homérica, as almas que habitam o Hades não passam de sombras destituídas de inteligência e de sentimentos, (19) de modo que, paralelamente às religiões de mistérios (de Elêusis e de Dionísio) e ao movimento religioso conhecido como orfismo, a proclamação pitagórica da imortalidade da alma pode ser considerada uma revolução filosófica.
Na tradição pitagórica, o materialismo manifesta-se não apenas na psicologia, mas na cosmologia matemática que, a confiarmos em Aristóteles, consistia na elaboração da assertiva de que “tudo é número”. Como princípios da realidade, os números eram concebidos à maneira de átomos ou de pontos físicos, e não como abstrações. (20) Alguns sucessores de Pitágoras desenvolveram a teoria de que todos os aspectos da realidade – os céus, o corpo humano e a alma – são regulados por proporções musicais, teoria esta que é comumente considerada uma precursora da moderna física matemática. (21) É tentador afirmar que essa cosmovisão é incompatível com o materialismo em sentido estrito. Parece-nos que o cosmo harmonioso dos pitagóricos encerra uma “complexidade irredutível” (para utilizarmos uma expressão consagrada pelo movimento do intelligent design), ou seja, um arranjo que não poderia ser explicado como uma propriedade emergente da matéria impensante. (22) Seriam dois, assim, os descendentes do matematismo pitagórico: de um lado, o Esaú da moderna física materialista; de outro, o Jacó da teoria do fine-tuned universe. A obra de Kepler é uma prova retumbante do aspecto teleológico da busca pitagórica pelas relações harmônicas. No século XVII, Kepler retomou, em sua descrição do Sistema Solar, a doutrina pitagórica da onipresença da harmonia musical, utilizando-a com um propósito teológico expresso:
Bibliografia
ARISTÓTELES. De anima. São Paulo: Editora 34, 2006.
BARNES, J. Filósofos pré-socráticos. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
______. The Presocratic Philosophers. Nova York: Routledge, 2005.
BRENNAN, B. A. Mãos de luz: um guia para a cura através do campo de energia humana. São Paulo: Pensamento, 2006.
BRUHN, S. The Musical Order of the World: Kepler, Hesse, Hindemith. [S. l.]: Pendragon Press, 2005.
BURKERT, W. Lore and Science in Ancient Pythagoreanism. Harvard: Harvard University Press, 1972.
DARWIN, C. The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. Londres: John Murray, 1871.
D’HOLBACH. Système de la nature. Paris: Fayard, 1990.
DIÓGENES LAÉRCIO. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Brasília: UnB, 2008.
DROZDEK, A. Greek Philosophers as Theologians: The Divine Arche. Aldershot: Ashgate, 2007.
GUÉNON, R. The Spiritist Fallacy. Nova York: Sophia Perennis, 2004.
GUTHRIE, W. K. C. A History of Greek Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. (V. I. “The Earlier Presocratics and the Pythagoreans”.)
HOMERO. Odisseia. São Paulo: Cultrix, 2006.
HUFFMAN, C. The Pythagorean Conception of the Soul from Pythagoras to Philolaus. In: FREDE, D.; BURKHARD, R. Body and Soul in Ancient Philosophy. Berlim: Walter de Gruyter, 2009.
KAHN, C. H. Pythagoras and the Pythagoreans. A Brief History. Indianápolis: Hackett, 2001.
KARDEC, A. Le livre des esprits. Paris: E. Dentu, 1857.
KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. The Presocratic Philosophers. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
RIEDWEG, C. Pythagoras. His Life, Teaching, and Influence. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008.
STENGER, V. God and The Folly of Faith: The Incompatibility of Science and Religion. Amherst, NY: Prometheus, 2012.
STEVENSON, I. Twenty Cases Suggestive of Reincarnation. Virgínia: University Press of Virginia, 2002.
STILWELL, G. A. Afterlife: Post-Mortem Judgements in Ancient Egypt and Ancient Greece. Lincoln, NE: iUniverse, 2005.
THAGARD, P. The Brain and the Meaning of Life. Princeton: Princeton University Press, 2012.
Notas (Clique pra voltar ao texto)
(1) O famoso teorema epônimo já era conhecido antes de Pitágoras, e não há evidências de que o próprio ou algum membro de sua escola o tenha demonstrado. Cf. C. H. KAHN, Pythagoras and the Pythagoreans. A Brief History, p. 32. Euclides será o primeiro a fornecer uma prova desse teorema, cerca de trezentos anos depois da época de Pitágoras.
(2) Ver, por exemplo, Twenty Cases Suggestive of Reincarnation.
(3) Pitágoras “recordava-se de todas as mutações precedentes”. Cf. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, Livro VIII, 5.
(4) DIODORO apud J. BARNES, Filósofos pré-socráticos, p. 103 (grifo do autor).
(5) The Presocratic Philosophers, p. 238.
(6) The Presocratic Philosophers, p. 87.
(7) Afirma Barnes a respeito da psicologia pitagórica: “Uma psyché distinta do corpo que ela habita pode ser corporal: prisioneiros humanos são distintos de suas cadeias físicas, mas eles também são substâncias físicas”. The Presocratic Philosophers, p. 377.
(9) Seríamos injustos se ridicularizássemos as crenças desses pitagóricos, como se os espiritualistas da atualidade acreditassem em coisas mais inteligentes. Uma declaração de uma guru da new age mostra que esse não é o caso: “A maneira mais fácil de começarmos a observar o campo de energia do universo é, simplesmente, deitar-nos de costas, relaxados, na grama, num bonito dia de sol, e olhar para o céu azul. Volvido algum tempo, veremos minúsculos glóbulos de orgone formando linhas onduladas contra o céu azul. Parecem minúsculas bolinhas brancas, às vezes com um ponto preto, que surgem por um segundo ou dois, deixam um ligeiro traço e tornam a desaparecer”. Cf. B. A. BRENNAN, Mãos de luz: um guia para a cura através do campo de energia humana, p. 63.
(10) Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, Livro VIII, 31, 32.
(11) A History of Greek Philosophy, p. 307.
(12) Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, Livro VIII, 24.
(13) Système de la nature, Primeira Parte, cap. VII (grifos do autor).
(14) “Se, como Aristóteles afirma [...], os pitagóricos consideravam a coisa mais natural do mundo uma pessoa ‘ver’ um daimon [espírito], e se eles também viam a miríade de almas dançando como poeiras num raio de sol, estamos bem distantes do conceito platônico de imaterialidade”. Cf. W. BURKERT, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, p. 73.
(15) O materialismo (evidentemente, em sentido lato) da doutrina espírita é inequívoco: “O espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa; é uma matéria quintessenciada, mas sem análogo para vós, e tão etérea que não pode ser percebida por vossos sentidos grosseiros”. Cf. A. KARDEC, Le livre des esprits, cap. IV, questão 39. Em contrapartida, a alma cartesiana seria imperceptível em princípio, ou seja, absolutamente. Em O erro espírita, René Guénon enfatiza, com razão, o materialismo da doutrina espírita. No entanto, quando a considera uma manifestação exclusivamente moderna, ignora o fato de que o dualismo materialista remonta à Antiguidade.
(16) O materialismo é o paradigma dominante da neurociência atual: “A hipótese de que as mentes são cérebros é parte de um programa de pesquisa altamente bem-sucedido e em expansão acelerada que tem gerado explicações neurais para um vasto conjunto de fenômenos mentais”. Cf. P. THAGARD, The Brain and the Meaning of Life, p. 54.
(17) O seguinte fragmento é atribuído a Filolau: “A cabeça, o princípio do pensamento; o coração, da alma e da percepção; o umbigo, do enraizamento e do primeiro crescimento; os órgãos genitais, da inseminação e da geração. O cérebro representa o princípio originário do homem; o coração, do animal; o umbigo, da planta; os genitais, de todos conjuntamente (pois tudo viceja e cresce a partir da semente)”. Apud J. BARNES, Filósofos pré-socráticos, p. 258.
(18) Apud DIÓGENES LAÉRCIO, Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, Livro VIII, 36. Com base nas evidências fornecidas por Filolau e por Xenófanes, Huffman conclui: “Aquilo que passa de um corpo a outro não é [...] o intelecto humano, mas a personalidade caracterizada por emoções e desejos”. The Pythagorean Conception of the Soul from Pythagoras to Philolaus. In: FREDE, D.; BURKHARD, R. Body and Soul in Ancient Philosophy, p. 23.
(19) Cf. G. A. STILWELL, Afterlife: Post-Mortem Judgements in Ancient Egypt and Ancient Greece, p. 41. O que dizer, então, do capítulo XI da Odisseia, em que a cena de uma séance com os mortos destoa das crenças assumidas no restante do corpus homérico? Atualmente, muitos estudiosos levantam dúvidas sobre a autenticidade desse capítulo, o qual, provavelmente, não passa de uma interpolação. Há ainda a possibilidade de que o conteúdo espiritualista da passagem mencionada seja apenas uma licença poética utilizada para embelezar a história. Cf. G. A. STILWELL, op. cit., pp. 38-47 e apêndice F.
(20) “Os pitagóricos supuseram que os números fossem coisas sensíveis, pois constataram que muitas propriedades dos números estão presentes nos corpos sensíveis”. Cf. ARISTÓTELES, Metafísica, 1090a. Assim, Riedweg observa que a doutrina pitagórica dos números não destoa do materialismo (em sentido lato) predominante entre os pré-socráticos: “Como outros pré-socráticos, os pitagóricos consideravam tudo o que existe como material, ou seja, perceptível pelos sentidos. Eles simplesmente substituem a água, o ‘ilimitado’ (concebido como matéria), o ar, a terra e o fogo pelo número”. Cf. Pythagoras. His Life, Teaching, and Influence, p. 87.
(21) “A descoberta empírica de Pitágoras de que as notas musicais podem ser representadas numericamente foi um passo importante em direção à compreensão de que a matemática pode ser usada para descrever fenômenos físicos”. Cf. V. STENGER, God and The Folly of Faith: The Incompatibility of Science and Religion, p. 56.
(22) Drozdek observa um nexo entre a harmonia pitagórica e a crença no design inteligente: “A ênfase posta na harmonia é uma contribuição duradoura do pitagorismo. Posteriormente, o argumento do desígnio para a existência de Deus tornar-se-á uma das mais fortes provas teístas”. Cf. Greek Philosophers as Theologians: The Divine Arche, p. 70 (grifo do autor).
(23) S. BRUHN, The Musical Order of the World: Kepler, Hesse, Hindemith, p. 122.

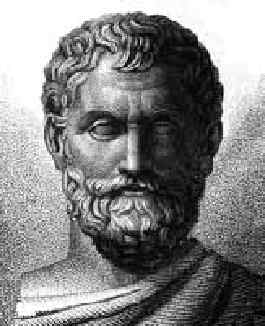 Vimos que a chave para a compreensão da filosofia dos jônios consiste na distinção entre o materialismo lato sensu e o materialismo stricto sensu. Com efeito, há algo de anormal (em relação ao materialismo puro ou estritamente definido) na cosmovisão daqueles que atribuem faculdades mentais primárias ou irredutíveis a uma substância material. Daí a frase materialismo lato sensu, que deve oferecer uma descrição da modalidade de materialismo professada pelos primeiros filósofos gregos. Graham caracteriza da seguinte maneira a entidade material que, nos jônios, justifica a designação panteísmo materialista:
Vimos que a chave para a compreensão da filosofia dos jônios consiste na distinção entre o materialismo lato sensu e o materialismo stricto sensu. Com efeito, há algo de anormal (em relação ao materialismo puro ou estritamente definido) na cosmovisão daqueles que atribuem faculdades mentais primárias ou irredutíveis a uma substância material. Daí a frase materialismo lato sensu, que deve oferecer uma descrição da modalidade de materialismo professada pelos primeiros filósofos gregos. Graham caracteriza da seguinte maneira a entidade material que, nos jônios, justifica a designação panteísmo materialista:
 As ciências da natureza, de fato, ensinam que a matéria é anterior ao aparecimento da consciência no reino biológico, como resultado da evolução do sistema nervoso, e que não há evidências empíricas de que o Universo tenha a estrutura de um cérebro gigantesco. Além disso, a cosmologia propõe cenários naturalistas para explicar a origem de nosso universo, e a evolução biológica, conforme o conhecimento científico geralmente admitido, é um processo inteiramente desprovido de propósito. Não se requer, portanto, a existência de uma mente divina que cria e governa a natureza.
As ciências da natureza, de fato, ensinam que a matéria é anterior ao aparecimento da consciência no reino biológico, como resultado da evolução do sistema nervoso, e que não há evidências empíricas de que o Universo tenha a estrutura de um cérebro gigantesco. Além disso, a cosmologia propõe cenários naturalistas para explicar a origem de nosso universo, e a evolução biológica, conforme o conhecimento científico geralmente admitido, é um processo inteiramente desprovido de propósito. Não se requer, portanto, a existência de uma mente divina que cria e governa a natureza.
 Há ainda outro traço da escola jônica a ser enfatizado pela história do materialismo, posto que ele consiste numa das marcas distintivas do materialismo estritamente definido, também conhecido como ateísmo. Há indícios suficientes de que os jônios admitiam a existência de uma divindade inteligente e providencial: segundo os testemunhos que nos chegaram, Anaximandro e Anaxímenes falavam do governo exercido pela divindade material sobre o cosmo. No entanto, o fato é que os pré-socráticos, de modo geral, renegavam as explicações teleológicas. Essa é a interpretação de Platão.
Há ainda outro traço da escola jônica a ser enfatizado pela história do materialismo, posto que ele consiste numa das marcas distintivas do materialismo estritamente definido, também conhecido como ateísmo. Há indícios suficientes de que os jônios admitiam a existência de uma divindade inteligente e providencial: segundo os testemunhos que nos chegaram, Anaximandro e Anaxímenes falavam do governo exercido pela divindade material sobre o cosmo. No entanto, o fato é que os pré-socráticos, de modo geral, renegavam as explicações teleológicas. Essa é a interpretação de Platão. 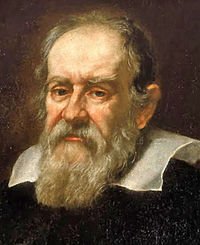 Sendo a densidade um conceito quantitativo (referente à presença maior ou menor de matéria num dado espaço), Anaxímenes procurou explicar as propriedades do mundo físico por meio da redução das diferenças qualitativas à variação quantitativa. Difícil seria exagerar a importância desse princípio para a subsequente história da ciência. Lembremos, por exemplo, que os elementos da química moderna são diferenciados pelo número de prótons contidos no núcleo atômico, e que os estados da matéria dependem do grau de coesão e de energia das moléculas que a constituem. De fato, o caráter matemático das ciências está vinculado à possibilidade de um tratamento quantitativo dos fenômenos. Isso se tornou particularmente claro a partir da revolução científica dos séculos XVI e XVII. O livro da natureza, afirmou Galileu, está escrito em linguagem matemática. A propósito, a existência de qualia (propriedades irredutíveis da experiência subjetiva) é vista atualmente como o grande obstáculo para a explicação científica da consciência. Uma cor pode ser reduzida às propriedades – passíveis de expressão matemática – da ação de determinada onda eletromagnética visível sobre o sistema nervoso. Mas isso explicaria o caráter fenomenal da cor percebida?
Sendo a densidade um conceito quantitativo (referente à presença maior ou menor de matéria num dado espaço), Anaxímenes procurou explicar as propriedades do mundo físico por meio da redução das diferenças qualitativas à variação quantitativa. Difícil seria exagerar a importância desse princípio para a subsequente história da ciência. Lembremos, por exemplo, que os elementos da química moderna são diferenciados pelo número de prótons contidos no núcleo atômico, e que os estados da matéria dependem do grau de coesão e de energia das moléculas que a constituem. De fato, o caráter matemático das ciências está vinculado à possibilidade de um tratamento quantitativo dos fenômenos. Isso se tornou particularmente claro a partir da revolução científica dos séculos XVI e XVII. O livro da natureza, afirmou Galileu, está escrito em linguagem matemática. A propósito, a existência de qualia (propriedades irredutíveis da experiência subjetiva) é vista atualmente como o grande obstáculo para a explicação científica da consciência. Uma cor pode ser reduzida às propriedades – passíveis de expressão matemática – da ação de determinada onda eletromagnética visível sobre o sistema nervoso. Mas isso explicaria o caráter fenomenal da cor percebida? Nas seções dedicadas a Tales e a Anaximandro, vimos de que maneira a distinção entre o materialismo lato sensu e o materialismo stricto sensu aplica-se aos milésios, e quais objeções podem ser formuladas contra a admissão de uma inteligência material irredutível. Para não nos repetirmos além do necessário (somos autorizados a supor que Anaxímenes também foi um materialista em sentido lato), consideremos agora outro rasgo do pensamento milésio de grande significação para a história do materialismo: a preterição das explicações teleológicas.
Nas seções dedicadas a Tales e a Anaximandro, vimos de que maneira a distinção entre o materialismo lato sensu e o materialismo stricto sensu aplica-se aos milésios, e quais objeções podem ser formuladas contra a admissão de uma inteligência material irredutível. Para não nos repetirmos além do necessário (somos autorizados a supor que Anaxímenes também foi um materialista em sentido lato), consideremos agora outro rasgo do pensamento milésio de grande significação para a história do materialismo: a preterição das explicações teleológicas. O Prometeu acorrentado, de Ésquilo; o episódio bíblico da queda de Adão; a emergência do cosmo determinado segundo Anaximandro: tantas formas diferentes de expressar um fundo noético comum (as duas primeiras, como metáforas da origem da condição humana). Para Anaximandro, o crime é a emergência da negatividade no seio da identidade. Os entes determinados violam a unidade sagrada do Ser. Como consequência, todas as coisas são necessariamente punidas com a dissolução, ou seja, com o retorno à indeterminação primitiva. Talvez devêssemos pensar, em conformidade com um desdobramento filosófico posterior, no caráter transgressor de todos os fenômenos emergentes, e particularmente na hybris inerente à origem filogenética da contraposição entre a consciência autônoma e a passividade da natureza.
O Prometeu acorrentado, de Ésquilo; o episódio bíblico da queda de Adão; a emergência do cosmo determinado segundo Anaximandro: tantas formas diferentes de expressar um fundo noético comum (as duas primeiras, como metáforas da origem da condição humana). Para Anaximandro, o crime é a emergência da negatividade no seio da identidade. Os entes determinados violam a unidade sagrada do Ser. Como consequência, todas as coisas são necessariamente punidas com a dissolução, ou seja, com o retorno à indeterminação primitiva. Talvez devêssemos pensar, em conformidade com um desdobramento filosófico posterior, no caráter transgressor de todos os fenômenos emergentes, e particularmente na hybris inerente à origem filogenética da contraposição entre a consciência autônoma e a passividade da natureza.
 Guthrie reconhece as propriedades psíquicas irredutíveis do apeiron: “Se ela [a divindade] inclui o poder de dirigir ou governar, ela também implica pelo menos alguma forma de consciência”.
Guthrie reconhece as propriedades psíquicas irredutíveis do apeiron: “Se ela [a divindade] inclui o poder de dirigir ou governar, ela também implica pelo menos alguma forma de consciência”. 
 A grande controvérsia da cultura contemporânea gira em torno do caráter materialista da evolução darwiniana. Na tentativa de acomodar as crenças religiosas ao conhecimento científico, muitos aderem à ideia de um processo evolutivo guiado por Deus. A compatibilidade entre teísmo e evolucionismo é defendida, por exemplo, pelo teólogo Alvin Plantinga:
A grande controvérsia da cultura contemporânea gira em torno do caráter materialista da evolução darwiniana. Na tentativa de acomodar as crenças religiosas ao conhecimento científico, muitos aderem à ideia de um processo evolutivo guiado por Deus. A compatibilidade entre teísmo e evolucionismo é defendida, por exemplo, pelo teólogo Alvin Plantinga:
 É preciso esclarecer de uma vez por todas que a evolução teísta não corresponde ao processo materialista estudado pelos cientistas e ensinado nas escolas. O fato é que, de acordo com a biologia moderna, o ser humano e as demais espécies foram gerados por uma combinação de mutações aleatórias e de seleção natural. A evolução darwiniana não é um processo guiado. Portanto, todas as espécies são resultado do acaso, e não do propósito divino. Este ensinamento da ciência está em absoluta contradição com todas as formas de teísmo. Com efeito, um olhar filosófico e imparcial logo discerne que o evolucionismo científico só é compatível com o sistema deísta (segundo o qual Deus é a causa primeira que estabelece as leis da física e depois abandona a natureza à sua própria sorte. O teísmo, por outro lado, sustenta a existência de um Deus que interfere no curso dos fenômenos naturais, como o Deus da Bíblia). No dizer de Johnson,
É preciso esclarecer de uma vez por todas que a evolução teísta não corresponde ao processo materialista estudado pelos cientistas e ensinado nas escolas. O fato é que, de acordo com a biologia moderna, o ser humano e as demais espécies foram gerados por uma combinação de mutações aleatórias e de seleção natural. A evolução darwiniana não é um processo guiado. Portanto, todas as espécies são resultado do acaso, e não do propósito divino. Este ensinamento da ciência está em absoluta contradição com todas as formas de teísmo. Com efeito, um olhar filosófico e imparcial logo discerne que o evolucionismo científico só é compatível com o sistema deísta (segundo o qual Deus é a causa primeira que estabelece as leis da física e depois abandona a natureza à sua própria sorte. O teísmo, por outro lado, sustenta a existência de um Deus que interfere no curso dos fenômenos naturais, como o Deus da Bíblia). No dizer de Johnson, Outro fato depõe contra a ideia de um processo evolutivo guiado por Deus: a existência de mutações deletérias, as quais são muito mais comuns do que as mutações benéficas. Com efeito, qual divindade consciente poderia comprazer-se em produzir mutações que reduzem as chances de sobrevivência e de reprodução dos organismos? O fato estabelecido pela ciência é o seguinte: no caso de peixes, para citar apenas um exemplo, as mutações que causam cegueira podem ocorrer em ambientes iluminados, para prejuízo de seus portadores. Cabe ao ambiente dizer quais mutações são proveitosas. A mesma mutação pode aumentar ou diminuir o sucesso reprodutivo de um organismo.
Outro fato depõe contra a ideia de um processo evolutivo guiado por Deus: a existência de mutações deletérias, as quais são muito mais comuns do que as mutações benéficas. Com efeito, qual divindade consciente poderia comprazer-se em produzir mutações que reduzem as chances de sobrevivência e de reprodução dos organismos? O fato estabelecido pela ciência é o seguinte: no caso de peixes, para citar apenas um exemplo, as mutações que causam cegueira podem ocorrer em ambientes iluminados, para prejuízo de seus portadores. Cabe ao ambiente dizer quais mutações são proveitosas. A mesma mutação pode aumentar ou diminuir o sucesso reprodutivo de um organismo.