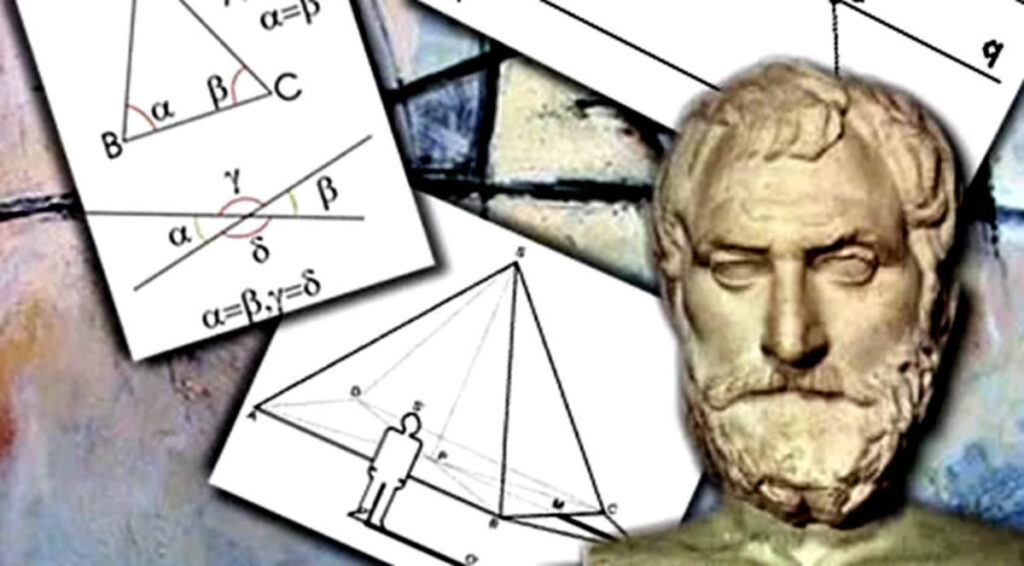Antes de mais nada, uma breve recapitulação seria bem-vinda. Vimos que na religião grega tradicional a atividade dos deuses muitas vezes ocorria de forma regular (“Se não chove, a causa são os cristãos”), e que, consequentemente, a novidade milésia não poderia consistir na proposição de leis naturais. Robert Price chega a falar em “regularidade semelhante à de um relógio” (1) quando descreve a alternância espiritual de Javé no livro de Juízes (uma observação perfeitamente aplicável ao mundo de Homero). Seria interessante trazer à memória a lenda segundo a qual os habitantes de Königsberg (atual Kaliningrado) podiam ajustar os relógios de acordo com a rotina escrupulosamente regular de Immanuel Kant. Porém, antes que se diga que o fato de Kant ser uma pessoa debilita a tese de que os deuses podiam agir como relógios, convém lembrar que o próprio Gregory argumenta que as divindades da filosofia grega (e não as da religião homérica) atuavam de modo regular: “[...] para Anaximandro tudo ocorre de acordo com leis naturais. Pouco importa assim se Anaximandro descreveu o apeiron como divino. Ele é parte da natureza e obedece a leis naturais, portanto não há nada de não natural nele”. (2)
Vimos que o conceito de moira é outra forma de estreitar a distância entre a filosofia homérica e a pré-socrática. Numa passagem que demonstra a origem pré-milésia da noção de lei natural, Cícero identifica a moira com o determinismo estoico: “Quanto respeito pode ser concedido a essa escola filosófica [o estoicismo], a qual, como um bando de velhas ignorantes, encara tudo o que ocorre como o curso do destino?”. (3) As velhas ignorantes, não há dúvida, representam a filosofia pré-milésia. Ademais, o aparecimento episódico de violações da moira (Zeus cogita em salvar da morte seu filho Sarpédon) não anula a consistência intelectual do conceito de lei; no filme Forrest Gump, o tenente Dan afirma que seu destino era morrer em combate, embora tal determinação tenha sido violada quando Forrest o salvou. Seria verdade que a esperança frustrada elimina do cérebro de Dan a compreensão do conceito de destino? Coisa igualmente absurda seria pensarmos que a anomalia da órbita de Mercúrio (precessão do periélio) destrói nos cientistas todas as reminiscências da física clássica.
Vimos também que uma consciência intuitiva do conceito de spandrel parece acompanhar necessariamente a compreensão da essência de uma lei natural. Os spandrels são efeitos colaterais que emergem da insensibilidade das leis. Quando uma mulher grega preenchia a vagina com um tampão de cera ou um (presumido) espermicida, ninguém imaginava que a lei que rege a ejaculação e o prazer sexual seria suspensa durante o coito. O líquido seminal jorra com ímpeto cego em presença do contraceptivo. No sexo anal, tampouco as leis táteis distinguem entre o revestimento acetinado do ânus e a textura da cavidade ordinária. E nem mesmo os obstinados espermatozoides deixam de nadar vigorosamente quando mergulham na quentura enganadora de um bolo fecal.
O conceito de spandrel é útil para explicar um aspecto central da religião homérica. O miasma (“nódoa”, “poluição”) era um campo de energia negativa que emanava dos indivíduos culpados de transgressões religiosas. O miasma do rei Édipo, por exemplo, era a causa da pestilência na cidade de Tebas. (Malária vem do italiano antigo mala aria, “ar ruim”.) Como uma nuvem malsã que se espalha cegamente, os miasmas atingiam a culpados e a inocentes de forma indiscriminada. Não devemos pensar num míssil teleguiado (um espermatozoide inteligente que distingue um colo uterino de uma massa fecal), mas numa granada de fragmentação e nas bombas incendiárias de napalm que eram lançadas nas selvas do Vietnã; não devemos pensar na excisão meticulosa de um tumor, mas nos efeitos colaterais da quimioterapia.
A ação dos miasmas é um exemplo perfeito de spandrel. Numa dinâmica de fluidos intuitiva, a contaminação pelos gases pestilentos obedece a uma lei, ou seja, a um esquema comportamental que carece de poder discriminatório. Tal é a razão por que Ésquilo, Eurípides, Xenofonte e Horácio (entre muitos outros) advertem que não deveríamos dividir uma embarcação com um homem impiedoso. Se os miasmas fossem semelhantes a mísseis teleguiados ou setas inteligentes, um ataque cardíaco pontual poderia substituir um naufrágio repleto de tristes vítimas colaterais. Conforme Oates, “[...] é evidente que a associação [com ímpios] deve ser evitada principalmente pelo temor de que a punição divina, que deve recair sobre o culpado, careça de discriminação e acabe por incluir o inocente”. (4)
Não é pouca coisa denunciar as modas historiográficas que privilegiam o conceito de lei natural e inflacionam a relevância da novidade milésia. Justifico assim o espaço dilatado que concedo ao tema, talvez contra o interesse dos que desejariam uma abordagem mais direta do ateísmo. Além de funcionar como um red herring que obscurece a verdadeira face do ateísmo, o apreço pela noção de lei natural é indicativo de uma tendência organicista e hilozoísta. A regularidade não interessa ao materialismo; o acaso, sim.
Qual seria, então, a essência da inovação milésia, assumindo-se que de fato houve uma mudança significativa? Qualquer erudito minimamente informado a quem fizéssemos a pergunta logo falaria de água, ar, leis, naturalismo, espírito científico e coisas similares. A reposta, como podemos ver, é vazia e expressa uma adesão a diretrizes filosóficas bastante questionáveis. Ainda assim, após rejeitar as hipóteses do racionalismo e do pendor nomológico, eu olho com certa simpatia para a alegação de que o cerne da novidade milésia é o fato de que a teleologia antropocêntrica foi substituída por uma perspectiva mais impessoal. Várias evidências fazem-nos acreditar que o pensador pré-milésio via o exército inteiro dos fenômenos particulares a girar em torno do homem. Do contrário, seria difícil compreender um juízo como o seguinte, veiculado por Aristófanes: “Se Zeus atinge os perjuros [com raios], por que ele nunca meteu Símon em chamas, e por que não Cleônimo, por que não Teoro, rematados perjuros? Em vez disso ele atinge seu próprio templo, atinge Súnion, promontório de Atenas, e carvalhos muito altos [...]”. (5) Ao mesmo tempo, minha inclinação a atribuir uma teleologia milimetricamente antropocêntrica à religião homérica encontra um sério obstáculo na teoria dos miasmas. Com efeito, não seria possível apontar uma diferença entre o comportamento dos miasmas e as ações da divindade gasosa de Anaxímenes (o ar é a arché). Os deuses manifestam-se como massas de matéria, eles tomam a forma de nuvens e de gases mefíticos. Nas palavras de Garrison, “A ‘nódoa’ de um indivíduo pode, o que normalmente acontece, extravasar sobre transeuntes inocentes e demais concidadãos, gerando a necessidade de um bode expiatório para que a sociedade possa purificar-se do poluente”. (6)
Os estoicos acreditavam na teoria das punições divinas. Para Crisipo, um terremoto às vezes tinha o propósito de controlar o crescimento populacional. (7) Ora, se os estoicos, pensadores bastante sofisticados, atribuíam um significado moral às convulsões da natureza, não seria descabida a tese de que os pré-socráticos defendiam crenças similares. Somente o intérprete mais inepto pensaria que a explicação que Tales dá aos terremotos deve ser encarada secamente, como o epítome de um naturalismo rotundo. A água de Tales, uma substância anímica, é provavelmente a causa de ações punitivas e de outras ocorrências dotadas de significado antropológico. Ela agita-se em pontos específicos e gera repercussões na terra firme (uma fenomenologia análoga à das ondas que sacodem navios no oceano). A comparação com os miasmas, portanto, não poderia ser mais legítima: assim como os tremores explicados por Tales, os miasmas propagam-se de modo mecânico a partir de um foco de irradiação. Não nos esqueçamos que os miasmas são semelhantes às emanações que brotam dos cadáveres e das fezes. Daí a correspondência entre os dois estilos de explicação: Tales fala do movimento da água e da terra; a religião grega tradicional, do movimento de gases malignos.
O cosmólogo Alan Guth repara que as teorias que partem do vácuo quântico não se sobressaem como investidas de um caráter ontológico especial: “[...] uma proposta em que o Universo surgiu do espaço vazio não é mais fundamental do que uma proposta em que o Universo foi gerado por um pedaço de borracha”. (8) Preciosa observação! Com base num raciocínio análogo, podemos perguntar até que ponto a hipótese da novidade milésia é verdadeira. Talvez tudo seja uma questão de grau: a religião homérica teria uma cota maior de teleologia antropocêntrica. No século 18, Bernardin de Saint-Pierre exagerou ao defender que as cores dos cães estão ajustadas às habitações humanas: “[...] eles são, normalmente, de duas cores opostas, uma clara e outra escura, para que, em qualquer lugar em que estejam na casa, eles possam ser percebidos”. (9) O estoico Balbus já havia expressado uma intuição parecida quando perguntou: “Que finalidade têm as ovelhas, além de vestir-nos com sua lã quando processada e tecida?”. (10) Paroxismo do pensamento teleológico, derrisão da ideia de desígnio! Ainda assim, é também verdade que a natureza real não está livre de seu quinhão de leis morais e teleologia antropocêntrica. O conatus (a tendência controlada pela divindade cardíaca de William Harvey) não permanece contraído nos limites do corpo humano. Antes, lança tentáculos em todas as direções e chega a penetrar o espaço profundo. Há uma estranha harmonia entre os organismos e a estrutura do cosmo. De acordo com a teoria do fine-tuning (a qual pode ser aceita cum grano salis), apenas uma combinação altamente específica de propriedades cósmicas é compatível com a existência de criaturas inteligentes.
O conatus ultrapassa a esfera do indivíduo e alcança as estrelas. Como observou Marx, “[...] a natureza passa a ser um dos órgãos de sua atividade [a do trabalhador], um órgão que ele anexa a seus próprios órgãos corpóreos, acrescentando estatura a si mesmo, apesar da Bíblia”. (11) Marx alude aqui à passagem de Mateus (“Quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura?”) com o intuito de mostrar que os instrumentos de trabalho são extensões artificiais do corpo. (O homem: uma aranha no centro de uma teia que abrange o Universo.) No mesmo trecho, Marx discorre sobre as espécies domesticadas:
No período inicial da história humana, os animais domésticos, ou seja, os animais criados de acordo com um propósito, e que sofreram modificações por meio do trabalho, desempenham o papel principal como instrumentos de trabalho ao lado de pedras especialmente preparadas, madeira, ossos e conchas. (12)
O espetáculo da domesticação não poderia deixar de impressionar os espíritos agudos. Basta lembrarmos a extraordinária variedade de raças caninas, prova irrefutável do quiasma que se forma entre o corpo humano e o mundo circundante. Assim, a bem da verdade, Balbus não se engana ao dizer que as ovelhas foram criadas para o ser humano! Além disso, um ecossistema particular e a própria Terra podem ser considerados como conatus estendidos. Em Homero, a fumaça dos sacrifícios subia aos céus e excitava as narinas dos deuses; hoje, os gases resultantes da queima de combustíveis fósseis acumulam-se na atmosfera e ocasionam graves perturbações ecológicas.
Os historiadores, com a vista turva e o espírito atulhado de ideologias tácitas (os NOMA parecem dominar a paisagem intelectual, bem como uma simpatia pelo hilozoísmo), não costumam sequer notar a teoria dos miasmas; quando a notam, não tiram as conclusões devidas. A historiografia aceita como dogmática é aquela que estabelece uma clivagem entre a religião homérica e o naturalismo milésio. Os miasmas, contudo, impõem uma obsedante presença e espalham seus corpos radioativos sobre esse panorama conceitual. Eu creio poder afirmar, com efeito, que (às vezes) a religião homérica é mais cientifica, mais nomológica e (cúmulo da perversidade!) mais materialista do que o pensamento pré-socrático; mais materialista, pois os miasmas da medicina hipocrática são mais seletivos (inteligentes, teleguiados) do que os da religião tradicional, e a impessoalidade é o signo da matéria. Como explica Jouanna, os miasmas da escola de Hipócrates (pensador que pode ser incluído entre os pré-socráticos) atuam de acordo com um sistema de chaves e fechaduras bioquímicas, ainda que os detalhes microscópicos sejam muito diferentes dos que hoje conhecemos:
A pestilência no texto hipocrático, causada por um elemento patogênico carregado pelo ar, afeta seletivamente os homens e as diferentes espécies de animais de acordo com as leis da compatibilidade e da incompatibilidade entre o elemento patogênico e a natureza de cada espécie, ao passo que a pestilência na tragédia, a qual é herdada da tradição épica (Homero, Hesíodo), é uma punição que é infligida indiscriminadamente a todos os tipos de seres vivos da comunidade a que a pessoa culpada pertence. (13)
Trata-se provavelmente de uma questão de grau. Em comparação com o pensamento milésio, a religião popular talvez contenha uma quantidade maior de teleologia antropocêntrica. Não é minha intenção, porém, determinar a quantidade precisa. Basta-me constatar que uma boa dose de fenômenos impessoais já fazia parte da mentalidade homérica. Nem seria preciso insistir numa análise dos miasmas (expressões paradigmáticas da imprecisão): até mesmo um raio pontual é constituído de uma parcela de elementos impessoais. Se um raio tivesse peças mecânicas, nós poderíamos repetir aquilo que Berkeley disse sobre os componentes internos de um relógio: uma caixa vazia (empty case) não serviria para marcar as horas. (14) Um raio, com efeito, tem a forma de um dardo, e um dardo é necessariamente um objeto extenso. Consequentemente, embora seja um projétil certeiro nas mãos de Zeus, um raio não poderia ser atomizado. Estamos diante de um pacote, de uma estrutura coesa, de uma Gestalt. Nem sequer uma bala de revólver (ponto material) poderia exercer seu ofício sem possuir um certo diâmetro.
Toda extensão é um conjunto de pontos. Uma linha, o objeto extenso mais simples, possui uma única dimensão e resulta do movimento de um ponto. (Produzimos um pacote de pontos quando espalhamos uma gotícula de tinta com a ponta do dedo. A própria gotícula, porém, já é um pacote com um diâmetro qualquer.) O nexo básico que devemos apreender é aquele que se estabelece entre um ponto e sua orla (o conjunto de pontos adjacentes). “Ontologia dos pacotes”, portanto, seria um nome apropriado para a teoria que descreve tal nexo. Quem deseja uma bebida é obrigado a adquirir o vasilhame que se agrega ao precioso líquido; a mulher amada não comparece ao ato sexual apenas como uma boneca de carne, mas como uma ânfora repleta de entranhas; a superfície lanígera das ovelhas é um biombo que recobre uma febricitante atividade orgânica; os testículos participam da liturgia, mas não penetram na tenda sagrada.
Assim como os miasmas, os raios que caem do céu são pacotes inteiriços. As partículas procedentes da divisão de um raio não conservariam as características do conjunto. Os fogos despachados por Zeus, em outras palavras, têm um propósito humanístico que não poderia ser realizado por fagulhas isoladas. A composição é o segredo. Ponto e orla formam uma unidade orgânica. Os raios são miasmas condensados que operam como as palavras de uma língua: pacotes de letras. Um projétil puntiforme, não é demais repetir, já é em si mesmo um agregado de pontos. Ora, então talvez não seja um exagero pensarmos que a ontologia dos pacotes é o instrumento de que precisamos para desvendar a essência de uma parte significativa do pensamento antigo (quiçá, para desvendar a própria essência da filosofia da natureza). Por muitos anos perambulei sem um rumo certo ao tentar compreender a relação entre uma presumível novidade milésia e o pensamento anterior. Demorei-me em três soluções traiçoeiras que à primeira vista pareciam muito plausíveis: o racionalismo, o pendor nomológico e a teleologia antropocêntrica. Hoje percebo que não haveria a menor possibilidade de penetração sem a posse da chave adequada. Tal como um basbaque que admira Os embaixadores de Hans Holbein, eu poderia especular eternamente sobre o indefinível objeto alongado que corta a porção inferior dessa tela. Por mais que eu perscrutasse os detalhes da figura, nenhuma solução apareceria. O problema é que eu estaria a seguir cegamente as regras do jogo e a contemplar a obra segundo as normas civilizadas da boa contemplação. Porém, se eu olho para a tela de forma oblíqua (um claro desrespeito à sensatez da observação frontal) ou tomo a liberdade de empregar um tubo oco de vidro, subitamente o objeto misterioso adquire o aspecto de um crânio perfeito. O nó górdio e o ovo de Colombo só entregam seus segredos aos que ousam infringir uma etiqueta silenciosa.
Um tubo oco de vidro: quanto a nós, onde buscaríamos um instrumento óptico? Só posso responder com base em minha experiência pessoal, já que uma multiplicidade de vias psicológicas conduz ao mesmo resultado objetivo. Os conceitos intercambiáveis de miasma, de spandrel e de ontologia dos pacotes, essenciais para a composição de um bom instrumento óptico, foram derivados, em meu caso particular, da leitura criativa de uma série de obras antigas e modernas. Destaco alguns exemplos: Descartes descobre a etiologia dos erros da natureza no fato de que os nervos estão dispostos como uma orla em torno da pineal; Malebranche elabora a teoria cartesiana e explica as malformações congênitas (ele próprio nasceu com uma espinha deformada) como efeitos colaterais ou subprodutos das leis da natureza (a ontologia dos pacotes em seu esplendor); o físico Brian Greene lança mão do conceito de package deal (“venda casada”, “oferta em pacote”) para descrever as características biológicas que, embora destituídas de valor funcional, aparecem agregadas a adaptações: como ele afirma, uma característica “pode não ter um valor adaptativo próprio, mas vir enfeixada a uma série de outras qualidades [...] que efetivamente foram selecionadas em razão de suas funções adaptativas”. (15) Descartes e Malebranche ficariam muito satisfeitos. O uso do termo “enfeixada” indica uma compreensão profunda da ontologia dos pacotes e a vigência no contexto científico atual de noções que remontam às Meditações de Descartes e até mesmo às considerações anatômicas do Timeu de Platão.
Bibliografia
ARISTÓFANES. Clouds. In: Frogs and Other Plays. Oxford: Oxford University Press, 2015.
BERKELEY, G. A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge. Filadélfia: J. B. Lippincott & Co., 1874.
CÍCERO. The Nature of the Gods. Oxford: Oxford University Press, 1998.
GARRISON, E. P. Groaning Tears: Ethical & Dramatic Aspects of Suicide in Greek Tragedy. Leiden: Brill, 1995.
GOULD, J. B. The Philosophy of Chrysippus. Albany: State University of New York Press, 1970.
GREENE, B. Until the End of Time. Nova York: Alfred A. Knopf, 2020.
GREGORY, A. The Presocratics and the Supernatural. Londres: Bloomsbury, 2013.
HOMERO. Odisseia. São Paulo: Penguin, 2011.
JOUANNA, J. Greek Medicine from Hippocrates to Galen. Leiden: Brill, 2012.
MARX, K. Capital. Berlim: Dietz Verlag, 1990.
OATES, W. J. The Influence of Simonides of Ceos Upon Horace. Nova York: Haskell House, 1971.
PRICE, R. Theodicy: The Idiocy. In: LOFTUS, J. (ed.). God and Horrendous Suffering. Denver: GCRR, 2021.
SAINT-PIERRE, B. de. Œuvres. Paris: Chez Lefèvre, 1836.
VILENKIN, A. Many Worlds in One. Nova York: Hill and Wang, 2006.
Notas (Clique pra voltar ao texto)
(1) Theodicy: The Idiocy, p. 241.On Greek Religion, p. 4.
(2) The Presocratics and the Supernatural, p. 51. O espírito nomológico antigo sempre viu uma conexão entre o comportamento regular e a presença de faculdades psíquicas. Os estoicos, por exemplo, acreditavam que o percurso dos corpos celestes era causado pelo autocontrole racional. Assim como a arché milésia, as estrelas eram deuses. A origem dessa crença parece ter algo a ver com a observação de navios à distância, objetos que se assemelham a seres vivos autônomos. De acordo com Balbus, o interlocutor estoico do diálogo de Cícero, somos convencidos “pela observação distante do curso de um navio de que seu progresso é controlado pela razão e pela habilidade humana”. Cf. The Nature of the Gods, p. 78. Navios e automóveis abrigam pilotos – suas almas. É plausível, assim, que o passo intermediário que levou à astroteologia estoica seja a passagem de Homero sobre os navios imediatamente racionais dos feácios: “E diz-me qual é a tua terra, qual é a tua cidade, para que até lá as nossas naus te transportem, discernindo o percurso por si sós”. Cf. Odisseia, Canto VIII, p. 255.
(3) The Nature of the Gods, p. 22.
(4) The Influence of Simonides of Ceos Upon Horace, p. 34.
(6) Groaning Tears: Ethical & Dramatic Aspects of Suicide in Greek Tragedy, p. 11.
(7) The Philosophy of Chrysippus, p. 158.
(8) Apud A. VILENKIN, Many Worlds in One, p. 185.
(10) CÍCERO, The Nature of the Gods, p. 104.
(13) Greek Medicine from Hippocrates to Galen, p. 125.
(14) A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, p. 227.
(15) Until the End of Time, p. 195.